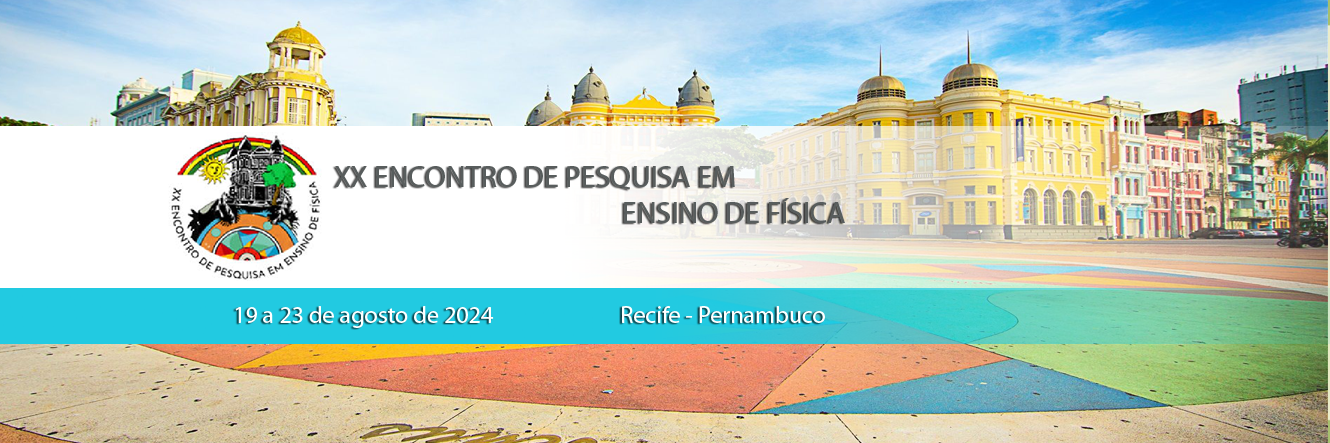
Nesta apresentação são discutidos elementos da abordagem da complexidade, considerando os riscos presentes no mundo contemporâneo, com o intuito de promover reflexões acerca da necessidade de identificar elementos nas nossas ações de pesquisa e extensão que sejam capazes de promover uma formação menos determinista e simplificadora. Para tanto, tem-se como referências aspectos da complexidade e do risco e da abordagem freireana, tomadas a partir de propostas de escolares que dialogam com o seu entorno (São Paulo e região). Especialmente, são destacadas ações que visam provocar no espectador inquietações acerca da necessidade de se pensar uma outra forma de lidar com um ensino de Física/ Ciências, que seja capaz de incorporar situações longe das certezas.
A partir da perspectiva de Georges Snyders para o diálogo entre as culturas nas relações de ensino/aprendizagem e suas relações com as ideias de Paulo Freire, apresentamos a proposta de construção da Escola de Tempo Integral no município de Porto Seguro (BA) através das relações entre a extensão universitária e a pesquisa em Educação em Ciências. Tendo como referência ações realizadas pelo projeto A.L.I.C.E. em uma escola pública municipal da periferia de São Paulo (SP), será contextualizado o processo de reconhecimento da cultura jovem periférica na Costa do Descobrimento, a identificação de pontos focais nas comunidades, e a importância da colaboração com professores da rede pública municipal neste processo. Serão apresentados exemplares desse processo, incluindo um detalhamento sobre o impacto do projeto na construção da legislação municipal para ETI e oficinas interdisciplinares desenvolvidas para fazer parte do currículo, delineadas pelo foco na importância da extensão dialógica-crítica nas interações entre comunidade, escola e universidade, e suas possíveis contribuições para a pesquisa em Educação em Ciências.
O objetivo desta apresentação é explicitar alguns aspectos sobre o conceito de extensão na visão de Paulo Freire e suas possíveis relações com a pesquisa em Educação em Ciências/Física. Tendo como referência essa perspectiva, será detalhado o processo de Investigação Temática, na identificação de demandas sociais/locais de comunidades, em colaboração com professores, em escolas localizadas na Costa do Cacau, no Sul da Bahia. Serão apresentados exemplares desse processo, baseado na Investigação Temática, incluindo um detalhamento sobre o reconhecimento e legitimação dessas demandas, sistematizadas em um Tema Gerador, e a elaboração da programação curricular com ênfase em alguns conceitos de Ciências/Física. Além disso, serão destacadas algumas ações desenvolvidas em colaboração com a comunidade local, explicitando o papel da extensão dialógica-problematizadora nas relações entre comunidade-escola-universidade e suas contribuições para a pesquisa em Educação em Ciências/Física.
Um diálogo aproximativo entre as ciências modernas e as ciências indígenas com exemplos que transitam entre a cosmofísica Apurinã e a entropia do universo; prevalência Tupinambá sob Galileu; a noção de tempo Munduruku e a sombra intransponível dos Chokwe; os bioindicadores Guaranis e suas previsões; a aerodinâmica das flechas Zoe e seu sistema numérico de base nas penas de gavião. Também em conexões educacionais com exemplos de experiências envolvendo metodologias de pesquisa e ensino regenerativo Krenak; a ciência cinética da docência e os possíveis caminhos futuros para a física e para a educação.
Ainda que se reconheça a pressão bem sucedida de movimentos sociais com demandas de povos indígenas, africanos e afro-descendentes por direitos a justiça social e combate a apagamentos de suas contribuições ao conhecimento, o mal uso da interculturalidade também traz preocupações sérias quanto a um uso perverso capitalista no mundo. Na educação, ao entendê-la como diálogo entre culturas, não basta que cidadãos pertencentes a culturas não hegemônicas sejam respeitados em seus direitos humanos, sendo fundamental que seus conhecimentos sejam reconhecidos por seu papel na ciência demandada nos dias de hoje para enfrentar a inegável crise sistêmica planetária. Pensar a educação intercultural em ciências como processo de pesquisa e aprendizagem requer re-conceitualizar estruturas epistêmicas do ensino de ciências praticado em escolas e na formação de professores e pesquisadores. No Brasil as leis 10639/03 e 11645/08 ainda carecem de implementação efetiva na educação em todos os níveis de ensino na área de Física e das outras ciências da natureza. Na mesa trarei o caminho do grupo de pesquisa em ensino de Física da UERJ na busca de Conteúdos Cordiais ao enfrentar resistências de caráter epistemológico ao conhecimento dos povos Dogon (africano) e indígena (Yanomami).
Nesta exposição temática, abordarei a interculturalidade no Ensino de Física no Semiárido (Sertão) Brasileiro, analisando como as práticas pedagógicas podem integrar saberes tradicionais com as perspectivas contemporâneas. A partir de uma visão freiriana de educação, discutirei como os educadores e educadoras podem superar as limitações de uma educação antidialógica e se alinhar com uma proposta de Formação transdisciplinar para vivência e a diversidade cultural do/no Semiárido/Sertão. Dessa forma, serão explorados os desafios e as possibilidades de construir um currículo de Física que dialogue com os saberes historicamente elaborados pelos povos do Semiárido, valorizando as aprendizagens encarnadas nos sujeitos que vivem e preservam essas tradições como fenômenos culturais e históricos. A complexidade, enquanto paradigma, será apresentada como uma base teórica para compreender e integrar a interculturalidade no ensino de Física, promovendo um diálogo de saberes que privilegie uma narrativa viva do lugar epistêmico que ocupa o biossistema do Semiárido/Sertão e ressignificando o currículo atual para um ensino mais contextualizado e relevante para a realidade local.
A Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF) completou 45 anos em 2023. Neste contexto, elaboramos uma edição especial comemorando a data e celebrando a importância da revista no âmbito do desenvolvimento da Pesquisa em Ensino de Física no Brasil. A compreensão de aspectos da RBEF ao longo do tempo naturalmente nos remete à história do Ensino da Física. Escolhemos duas dimensões de análise para a composição deste número. Na primeira estão os temas de natureza mais abrangente, como nas narrativas sobre o que é a RBEF para os editores que participaram das publicações; o que é a RBEF para os atuais leitores; como a RBEF foi mudando a apresentação das edições, seus conteúdos, temas e enfoques ao longo de sua existência. Na segunda dimensão estão as análises de dois temas escolhidos para representar uma análise mais específica de conteúdo. Dessa maneira, a edição especial é composta por sete artigos que mostram o caráter da revista por meio das narrativas de cinco editores e duas colaboradoras ao relembrar o tempo que contribuíram para a composição das edições; uma análise semiótica das mensagens visuais presentes nas capas da RBEF; o alcance da revista por meio da caracterização do perfil dos leitores; análise histórica da revista no período de 1979 a 1999 documentando o material publicado bem como sua contribuição para a área; análise bibliométrica da revista de 2000 a 2023, identificando tendências das publicações e preferências dos autores; análise mais específica do papel da revista com foco em dois temas: História e Filosofia da Ciência e Laboratório didático, ambos tópicos importantes no Ensino de física e presentes em todos os números da revista.
Nesta apresentação foram expostas alguns fatos históricos que impactaram o ensino de Física e sustentaram o surgimento e fortalecimento da área de pesquisa em Ensino de Física. Apresentados como memórias de uma vida de dedicação ao ensino de Física, foram trazidas histórias de situações e de pessoas que muito contribuíram para o ensino e a pesquisa em Ensino de Física, com especial destaque para as ações realizadas pelo saudoso professor João Zanetic. Considerar as memórias foi um modo de avaliar o que já foi feito e de prospectar necessidades para as atividades de ensino e da pesquisa em ensino de Física na sociedade da informação que enfrenta confrontos antigos, e tristemente remodelados, como a ascensão de discursos e de políticos de extrema direita, além de novos desafios, especialmente aqueles advindos em um planeta que enfrenta, de modo descuidado, as mudanças climáticas que nos impactam cotidianamente.
O título ‘Memória da área’ no qual subjaz a pergunta “de onde partiu a caminhada nas veredas?” nos remete para um tom memorialista de fundamental importância para que venhamos a refletir sobre o complexo tema do ensino de Física. Para qualificar a nossa apreciação, lançamos mão, no título correspondente acima, dos adjetivos, respectivamente, diacrônica e pessoal, para ressaltar que se trata de uma abordagem evolutiva na qual continuidades e descontinuidades comparecem neste recorte escolhido, que é, evidentemente, muito lacunar. Na presente apreciação elegemos alguns momentos que reputamos marcantes na nossa formação como: i) a nossa imersão em 1967 e 1968 como estudantes na experiência do PSSC (Physical Science Study Committee); e, ii) a nossa participação como estudantes durante o I SNEF (Simpósio Nacional de Ensino Física) realizado em São Paulo em janeiro de 1970. Eventualmente, também nos referiremos a 2006, a 2010, a 2012, a 2013, a 2014 e a outros momentos mais recentes nos quais pudemos perceber uma ampliação e diversificação dos interesses no seio da comunidade dos pesquisadores em ensino de Física. A formação de quadros qualificados continua a ser um tema recorrente a despeito de um crescente espectro de abordagens que compreende teores interdisciplinares e transversais. Considerações que lancem mão da História da Ciência, da Filosofia da Ciência e da Sociologia da Ciência, enquanto expedientes que têm potencialidade de ajudar a compreensão do próprio teor da Física, serão trazidas à baila para o debate. Preocupa-nos, sobremodo, uma precarização que se reflete em adoecimento dos professores refletida por um visível apagão de quadros voltados para o ensino de ciências e por uma proposta de um Novo Ensino Médio de viés neoliberal que se direciona muito mais para criação de peças de engrenagem para satisfazer demandas do mundo do trabalho em um sistema torto, do que, o que seria mais fundamental que é a formação crítica e criativa que contempla valores éticos e atitudes proativas dos sujeitos da educação.
Evitando os extremos subjetivista e objetivista, Paulo Lima Júnior propôs uma abordagem que integra experiências e políticas de formação de professores sob o mesmo quadro teórico-conceitual. Introduziu o conceito de gosto por docência como senso prático que, marcado por desigualdades e lutas sociais, orienta a maneira como pessoas julgam o que é admirável, agradável e pertinente no contexto da docência. Desse modo, o gosto por docência orienta a maneira como professores julgam quais práticas e profissionais devem ser considerados mais admiráveis e pertinentes. A capacidade de realizar julgamentos e tomar decisões que venham a ser reconhecidas por outros é, portanto, o fundamento do reconhecimento profissional do próprio professor. Há diversos gostos porque há diferentes formas reconhecidas de distinguir as práticas e os profissionais mais pertinentes e admiráveis. Por essa razão, a qualidade da formação dos professores é um objeto em constante disputa. Julgamentos são inevitáveis, necessários, performativos, e podem ser investigados em diversas escalas espaço-temporais. Com base nessas ponderações, foi realizada uma análise do PSSC , revelando os conflitos políticos que estão no seu fundamento. Os valores que fundamentam o PSSC foram designados por cientificismo: um tipo de gosto por docência característico do ensino de ciências. Segundo o cientificismo, os profissionais mais valorizados deveriam ser os próprios cientistas. Sobre a lógica do cientificismo, o professor de ciências deve ser formado à imagem e semelhança do cientista. Além do PSSC, diversos projetos contemporâneos de formação de professores mantém a mesma lógica, a exemplo das políticas de formação de professores lideradas pela SBF (como o MNPEF). Ao mesmo tempo, para evitar a lógica protofascista do "eles contra nós", Lima Junior destacou que a história do ensino de física é mais marcada por uma composição com o cientificismo que por uma oposição contumaz a ele. A apresentação foi encerrada com duas questões para reflexão: (1) quais acordos e concessões foram feitos ao cientificismo nas políticas públicas de formação de professores de física? (2) Havendo espaço institucional para renegociar essas concessões, de que maneira nós desejamos promover essa renegociação?
A formação de professores de ciências no Brasil, desde a década de 1990, é marcada por políticas educacionais de certificação. Caracterizadas por modelos hegemônicos e neoliberais preconizados pelo Banco Mundial, a certificação está na pauta atual das políticas de órgãos governamentais com a criação de programas de mestrado (e doutorado) profissionais em rede. Discursivamente, a certificação está associada à melhoria da qualidade da educação básica. Porém, efetivamente, a política de certificação em massa reforça a competência individual, de forma regulatória e avaliativa, transferindo a responsabilidade do Estado para o professor. Consequentemente, esse tipo de política prioriza a certificação em detrimento de políticas públicas para melhoria das condições de trabalho, de aumento salarial e valorização da carreira. Para tal, as soluções na formação e prática docentes não podem apenas ser formais, precisam ser essenciais. Dessa forma, nesta apresentação vou discutir a relação entre pesquisa e formação docente, na perspectiva da concepção do professor como intelectual crítico, e defenderei que uma forma de política pública de formação para solução essencial passa pela pesquisa com professores e estudantes. Por fim, vou apresentar o projeto Futurando com Ciência, financiado pela FAPERJ, desenvolvido com professores e estudantes da educação básica em uma escola pública da cidade de Petrópolis-RJ, enfatizando como as condições de trabalho possibilitadas por bolsas proporcionaram o desenvolvimento de um trabalho inovador, colaborativo e criativo. “Eu também sou pesquisadora!” é uma exclamação de uma aluna do ensino médio, bolsista Jovens Talentos de Iniciação Científica Júnior, que assim o disse em uma das reuniões do projeto e representa a síntese do processo de construção de outros espaços e de outras relações no que se refere às experiências de parcerias desenvolvidas no decorrer do projeto, buscando-se, assim, construir soluções essenciais, além das formais.
O ensino de Física no Brasil enfrenta desafios históricos, identificados já no Simpósio Nacional de Ensino de Física de 1970: falhas conceituais, ausência de formação pedagógica para professores em serviço, métodos livrescos, turmas superlotadas, baixa carga horária, defasagem de laboratórios e bibliotecas, baixos salários e evasão em cursos de licenciatura. Além disso, a interação limitada entre professores da Educação Básica dificulta a troca de experiências didáticas bem-sucedidas. Nesse contexto, o Programa de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede Pública da Educação Básica (PROEB), regulamentado pelas Portarias nº 209/2011, nº 61/2017 e nº 207/2024, surge como uma estratégia para a melhoria da qualidade do ensino. Ele promove a formação stricto sensu de professores por meio de programas de mestrado profissional em rede, criando condições para transformar práticas pedagógicas e enfrentar os desafios históricos da educação científica no Brasil. O Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), integrante do PROEB desde 2013, representa uma iniciativa transformadora. Com 60 polos em instituições públicas de ensino superior e nota cinco, a máxima, na última avaliação quadrienal da CAPES, o programa forma físicos-professores capacitados para inovar no ensino de Física e contribuir para o desenvolvimento educacional do país. O MNPEF destaca-se por sua abordagem prática e translacional, promovendo a aplicação direta do conhecimento em abordagens metodológicas e produtos educacionais. Recursos experimentais, computacionais e interdisciplinares são elaborados pelos professores como parte da integralização do mestrado, o que engaja os participantes no desenvolvimento de práticas pedagógicas significativas e capazes de despertar o interesse dos alunos pela Física e pelas ciências básicas. Além disso, o programa contribui para a redução das desigualdades regionais, fomentando uma reflexão crítica sobre o ensino de Física e envolvendo a comunidade acadêmica em um movimento nacional pela valorização docente. A participação de físicos de diferentes especialidades como professores e orientadores promove um diálogo próximo com a realidade das escolas, gerando oportunidades de reflexão e mudanças nas abordagens metodológicas e na bibliografia utilizada nos cursos de graduação. O MNPEF conta com o acompanhamento de uma comissão nacional de pós-graduação, com representantes regionais e coordenações em cada instituição associada (polo). A secretaria geral está situada na Sociedade Brasileira de Física (SBF), com suporte adicional de secretarias locais. O processo de avaliação é contínuo, detalhado e cuidadoso, garantindo a manutenção da qualidade acadêmica e o alinhamento às demandas do ensino básico. Apesar de seus avanços, o MNPEF ainda enfrenta desafios. O reconhecimento e a valorização dos Mestrados Profissionais em Ensino são cruciais para garantir sua continuidade e aprimoramento. A criação de Doutorados Profissionais em Ensino seria um passo fundamental para consolidar a formação de alto nível de físicos-professores no Brasil e ampliar o impacto do programa. Ao recolocar o professor no centro do processo educacional, o MNPEF reafirma o papel do físico-professor como agente essencial na construção de uma educação científica transformadora. Ele reduz a lacuna entre o conhecimento científico e a sociedade, preparando professores para elaborar metodologias alinhadas às diversas realidades locais. Esse empoderamento profissional tem contribuído significativamente para uma transformação auspiciosa no cenário de ensino e aprendizagem da Física nas escolas públicas brasileiras, mostrando o potencial do programa para transformar a educação científica no país para melhor.